 Texto
Texto
Entrevistas
Por Instituto Escolhas
11 setembro 2018
8 min de leitura
Entrevista do mês – Carlos Frederico Marés
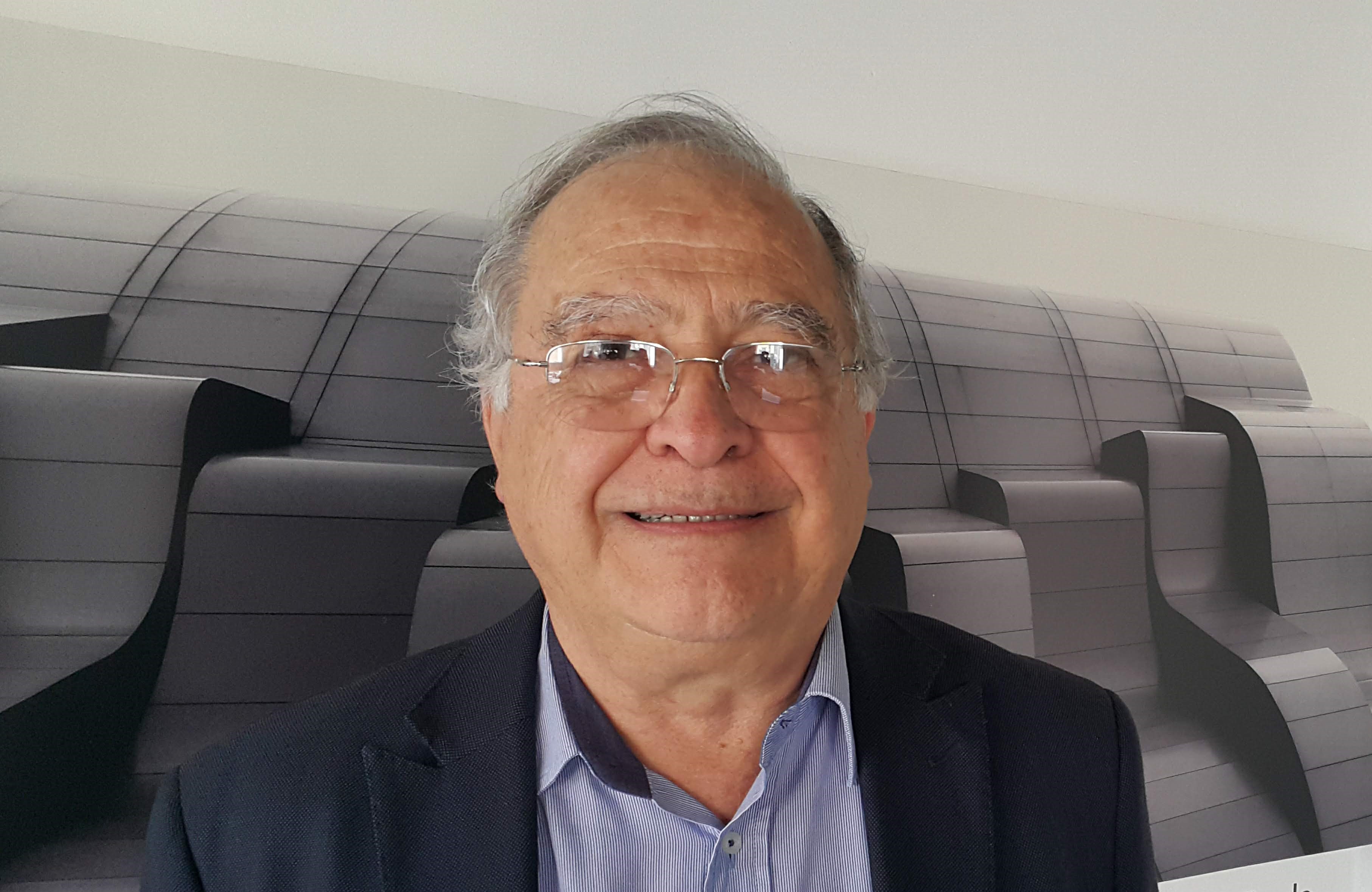
Se colocássemos preço na natureza, por exemplo, quanto custaria um litro de gasolina, considerando
que são necessários alguns bilhões de anos para produzir o petróleo?
O Instituto Escolhas conversou com Carlos Frederico Marés, jurista com larga trajetória de atuação na área do direito agrário e socioambiental e do patrimônio cultural. Atualmente professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Marés já foi Procurador Geral do Estado do Paraná, Presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Procurador Geral do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Marés destaca que as leis de proteção ao meio ambiente, povos indígenas, populações tradicionais e patrimônios históricos têm sido sistematicamente negligenciadas pelo Estado. Primeiro o poder executivo, quando concentra seus esforços na execução de grandes obras e ignora seus impactos sociais e ambientais, depois pelo poder judiciário, que muitas vezes deixa de aplicar a lei.
A realização de grandes obras no país e a devida consideração de seus impactos socioambientais são aspectos que não têm sido bem equacionados no país. O Estado não realiza uma análise prévia adequada dos custos e benefícios de se realizar a obra, considerando os seus impactos econômicos, sociais e ambientais. O arcabouço legal que nós temos consegue dar conta desse problema?
Carlos Marés: O arcabouço legal que nós temos vigente no Brasil dá conta. A complexidade é que não se aplica a lei. Esse sistema de investimento em grandes obras interessa especificamente a um determinado setor. Já o que essa obra afeta, no caso as pessoas e o ambiente, não tem nenhum significado para o sistema. As leis que protegem o patrimônio cultural, o arqueológico, as sociedades tradicionais e o meio ambiente foram todas conquistadas em um processo de luta de classes. Por isso, sempre que podem, são negligenciadas pelo Estado e pelas empresas. Muitas vezes, o Estado se vê obrigado a criar regras que teoricamente impediriam a execução de grandes obras da forma como são feitas. No limite, o que ocorre é que a aplicação da lei acaba negligenciada pelo Estado e pelo judiciário, que são os responsáveis pelo controle e aplicabilidade da lei. O judiciário, diga-se de passagem, é o órgão menos democrático da sociedade. Assim, as leis são criadas por/de forma democrática, mas não são aplicadas por canais democráticos.
Na hora da compensação decorrente dos impactos de grandes obras, como é que se atribui valor para o intangível, como a cultura de um povo indígena?
Carlos Marés: Para o sistema, só tem valor o produto do trabalho, aquilo que se transforma em mercadoria. Tudo que não conseguimos traduzir em quantidade de mercadoria, não tem valor. Por isso que trabalho da mulher não tem valor. Você faz o feijão e come, não virou mercadoria, ao contrário, você consumiu a mercadoria, repôs a força de trabalho, mas se isso não está na conta, não está no valor. Se colocássemos preço na natureza, por exemplo, quanto custaria um litro de gasolina, considerando que são necessários alguns bilhões de anos para produzir o petróleo? Se pensarmos na água, que compensação é possível quando se suja? O processo tem tantas variantes que acaba se tornando impossível valorar. E o que é possível fazer? Quando tratamos de sociedades humanas, a gente começa a falar em compensação por terras. Já que diminuiu a capacidade do ribeirinho de comer peixe, tem que aumentar a sua capacidade, sua autossuficiência, para alimentar a sua cultura, para produzir outras coisas que lhe garantam o sustento. Essas contas são possíveis, mas não é uma compensação monetária, digamos assim. O problema está na mentira inicial contada pelos grandes empreendimentos, que dizem para essas pessoas que elas vão ganhar emprego, que suas terras serão substituídas por trabalho e salário, mas considerando a nossa realidade social, existem dois traumas. O primeiro, mesmo que fosse verdade que todos fossem empregados na hidrelétrica, estaríamos destituindo uma sociedade essencialmente camponesa e pescadora para criar um grupo de indivíduos que passam a ser essencialmente operários assalariados. O segundo trauma, é a constatação da mentira, porque não tem emprego para todos. A hidrelétrica não gera o que se chama desenvolvimento local, porque está produzindo uma mercadoria que vai para longe dali.
Considerando os diversos conflitos brasileiros relacionados ao uso e ocupação do solo, podemos dizer que no Brasil o direito à propriedade se impõe sobre outros direitos fundamentais?
Carlos Marés: O Brasil foi integralmente colonizado e nesse processo o colonizador se apossou da natureza e dos seres humanos, colocando nela o nome de terra e neles o nome de trabalho. Essa ideia permanece até hoje. Comparando o código civil brasileiro de 2002 com o código civil francês de 1803 temos dois séculos de intervalo e podemos identificar uma grande diferença entre os dois: o brasileiro chega a ser mais radical em termos de uso da terra. 200 anos depois já não há mais o caráter absoluto da terra que existia em 1803. O problema está na cultura jurídica da propriedade privada da terra. Digamos que uma pessoa se instala com sua família em uma terra vazia e começa produzir seu próprio alimento, mas em algum momento vem um sujeito com o título de propriedade da terra e reclama, por meio de ação judicial, a posse daquela mesma terra. Ele ganha uma liminar imediatamente, porque tem o título da propriedade. Então, a propriedade está acima de qualquer outro direito, mas isso não quer dizer que seja fundamental, o direito à alimentação é que é fundamental.
4. Em 2015 você escreveu um artigo sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) apontando a necessidade do registro de terras indígenas e territórios quilombolas e a possibilidade de que o cadastro pudesse ser usado para regularização de imóveis ilegais. Um mapeamento recente identificou no CAR registros de propriedades em 323 áreas de proteção integral, das quais 138 eram terras indígenas. Como você vê as falhas e os usos indevidos do CAR?
Carlos Marés: Se analisarmos a ideia do CAR percebemos que ela é boa, porque supõe que vamos pegar toda a terra do Brasil e olhar cada pedacinho para ver o que é. Entretanto, o sistema jurídico que trata de terras exige a comprovação de títulos de propriedade e esse sistema de registro não conversa com o CAR. Pelo contrário, a propriedade tendo o CAR não precisa registrar áreas internas.
Apesar do registro de imóveis no Brasil estar longe de ser o ideal, é o único lugar onde o comprador consegue se informar sobre a qualidade jurídica da terra, se ela está de acordo com a lei, onde é mata ciliar, onde é reserva legal e etc. Tudo isso deveria estar em um único registro e consolidado no CAR. E qual é o grande drama do CAR? Não ter amparo legal para impedir que uma propriedade instalada em uma área protegida, seja ela um território indígena ou uma área de preservação permanente, consiga se cadastrar. A lei ambiental deveria dizer não, aqui é uma área indígena e você está dizendo que é sua, mas não é e anular o registro. E por que não funciona assim? Porque uma lei ambiental não é uma lei do direito civil, não pode anular título, porque títulos são direitos adquiridos, pré-estabelecidos e etc. Esse é o drama, permite o registro e facilita a grilagem de terras.
Podemos afirmar que há uma ausência de diálogo entre a legislação agrária e fundiária e a ambiental no Brasil?
Carlos Marés: É importante salientar que o direito aos bem comuns são antigos, antes do século XIX não existia a propriedade privada da terra. Assim, o direito ambiental é um direito velho porque trata de bens comuns e vem antes da terra virar propriedade privada. Isso fez com que ela se tornasse mercadoria, independente da sua produção. Quando o sujeito compra um pedaço de terra ele pode vendê-lo futuramente valorizado, na maior parte das vezes pela ação do próprio Estado: com a abertura de uma estrada, um asfaltamento, um porto, a instalação de energia elétrica, telefone, qualquer investimento público já valoriza a mercadoria. No século XX, o sistema de legislação ambiental começa pensando na propriedade pública, mas já no meio do século passa a regulamentar questões ambientais internas à propriedade, como o Código Florestal. Sistematicamente, a lei ambiental foi se inserindo na questão da propriedade privada, até então intocada. Foram criados ajustes para tornar a expansão da propriedade privada mais restritiva. O simples fato de 20% da terra ter que ser reserva legal, já diminui em 20% o valor da terra e isso interferiu na livre disposição daquela mercadoria.
Diferente das décadas de 1980 e 1990 o tema da reforma agrária vem perdendo fôlego no debate político do país. Seria razoável dizer que esse problema foi superado ou tomou outro contorno?
Carlos Marés: O estatuto da terra de 1964 imaginava que a reforma agrária seria uma grande repartição de terras, inclusive dos grandes latifúndios, para pessoas, para famílias que estavam próximas à terra. Elas passariam a produzir e isso aumentaria exponencialmente a produção agrícola aproveitando o potencial produtivo daquilo que chamavam de latifúndio improdutivo. Na contramão, o sistema capitalista conduzia outra reforma agrária, que expulsava os camponeses, promovia a concentração dessas terras e condensava a utilização de capitais fantasticamente aplicados à terra com maquinários, agrotóxicos e posteriormente sementes. Isso parecia ser uma reforma agrária porque alterou as condições do campo e aumentou sua produtividade transformando o Brasil num grande produtor de commodities, mas não de alimentos. A grande mentira desta produção é que para existir necessita de investimentos grandes do Estado por meio de empréstimos subsidiados. Se isso for retirado, o negócio fica economicamente inviável. Além disso, existe a insustentabilidade social e ambiental, uma vez que essa mudança substituiu o camponês pelo operário do campo e desencadeou um avanço sobre as florestas. A reforma agrária, aquela antiga que previa a distribuição de terras, a produção em pequenos lotes, coletiva e principalmente de alimentos, essa foi considerada impossível, mas hoje ela foi retomada pelos movimentos sociais, continua vigente e se faz necessária. Curiosamente, ela já é praticada no Brasil pelos povos tradicionais, índios, quilombolas, entre outros, que têm muito a nos ensinar.
